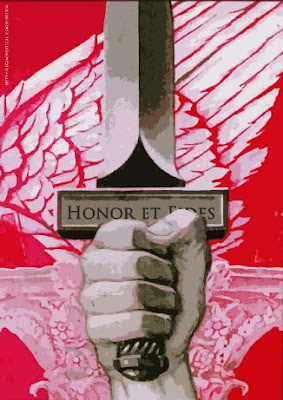A época solitária do «Japão proibido» dos Tokugawa é um período apagado, uma crónica sem feitos de relevo.
Os daimios, reprimidos e explorados, acham-se numa situação financeira precária; as cobranças fiscais são mais do que aleatórias. A entrada em circulação do papel-moeda suscita uma inflação de tal ordem que se torna necessário proibir essa prática em 1707. No entanto, o xógum vive sumptuosamente. A partir de 1730, todos os senhores se tornam dependentes dos mercadores – usurários de Osaca, que lhes deixam apenas o bastante para vegetarem. O Governo é obrigado a decretar regularmente a anulação das dívidas.
Os grandes daimios continuam a sustentar um número mais ou menos elevado de samurais; todos eles constituem uma classe improdutiva e inactiva desde que reina a paz dos Tokugawa. Vivem quase exclusivamente do trabalho dos camponeses e quase todos levam uma vida luxuosa, geralmente acima dos seus meios.
A população do Império aumenta pouco a pouco e o afluxo dos camponeses às cidades perturba os dados económicos do país. Burgueses e comerciantes acumulam rapidamente fortunas consideráveis e adquirem um poder que escapa pouco a pouco à nobreza.
O bakufu tenta remediar a este estado de coisas por meio de leis sumptuárias e confiscações; mas nada consegue deter a ascensão dos burgueses. Ora, estes desejam a abertura do país aos estrangeiros, para ampliarem o seu comércio, de acordo nesse ponto com os grandes daimios, que vêem nisso um meio de aumentar os seus recursos.
Os costumes também evoluem: depois dos primeiros esforços dos Tokugawa para lutar contra a devassidão provocada pelas guerras civis, os costumes voltam a ser simples, austeros até, e regem-se pelo Bushidô. Depressa, porém, os xóguns, os grandes senhores e, em breve, toda a classe dirigente, adquirem hábitos de magnificência e luxo.
As classes fundem-se; o guerreiro torna-se agricultor, o comerciante torna-se guerreiro, o camponês torna-se comerciante; mas são sobretudo os samurais e os burgueses que se interpenetram: em tempo de paz, os aristocratas pobres procuram sempre casar com plebeias ricas!
A época do «esplêndido isolamento» é um período de vida elegante em que a mais sórdida miséria acompanha o luxo mais despropositado. Quioto, capital do imperador divino, não passa já de uma cidade nostálgica do seu passado, consagrada ao culto das artes delicadas e aos ritos imperiais. O imperador não interfere, por assim dizer, no curso dos acontecimentos.
Edo, que se tornará Tóquio, é a cabeça enorme de um corpo demasiado pequeno; capital desproporcionada, conta dois milhões de habitantes, enquanto Paris não ultrapassa os quinhentos mil. O Palácio dos Xóguns é o Versalhes do Japão. Por detrás deste brilhante cenário, Yoshiwara é o mais bem organizado dos bairros reservados. Os ricos comerciantes organizam aí faustosas festas, alegradas e embelezadas pela presença das gueixas, cantadeiras profissionais.
Os trajes evoluíram um pouco: generaliza-se o uso do quimono. Se os samurais continuam a usar o traje tradicional – armadura «de coleóptero» ou toga, calças e túnica com ombros engomados –, os daimios tendem a feminizar-se; quer no modo de vida – eliminando os desportos viris –, quer no vestuário, que se torna mais cómodo e macio.
Politicamente, socialmente, economicamente, o Japão está em plena decadência. No entanto, possui tudo o que precisa para suplantar o seu drama.
O espírito dos antigos samurais não morreu.
Uma maravilhosa e sangrenta aventura vai para sempre simbolizar a perenidade da lei e da honra.
Nos primeiros dias do mês de Março de 1701, o imperador Higashiyama enviou para junto do xógum Tokugawa Tsunayoshi, em Edo, três embaixadores: dois para o representarem pessoalmente e um outro em nome do ex-imperador retirado, Reigen.
Para os receber, o xógum nomeara dois grandes senhores, um dos quais, Asano Naganori, daimio do castelo de Akô, fora encarregado de dirigir as cerimónias. Asano tinha a princípio recusado essa honra, alegando a sua ignorância da etiqueta da corte. Mas, instado pelos outros fidalgos, acabara por aceitar, com a condição expressa de ser aconselhado pelo mestre-de-cerimónias da época, um velho chamado Kira Yoshihisa. O assunto era da maior importância para Asano; a missão mais importante de toda a sua vida, sem dúvida.
Fazia, com efeito, parte dos costumes da época, de Edo, que, no princípio de cada ano, o governador de Quioto se deslocasse ao Palácio Imperial a fim de apresentar ao imperador e à sua família os votos do xógum residente em Edo. Era em retribuição desta visita que, nos primeiros dias da Primavera, o imperador enviava, por sua vez, à corte xogunal, emissários encarregados de transmitir ao xógum a expressão da sua confiança. Este tributo de respeito anual assumia aspectos de uma renovação de investidura e fornecia sempre oportunidade para uma cerimónia grandiosa, à qual o xógum procurava emprestar o maior esplendor, pois mostrava ao povo que o imperador continuava a dar-lhe o seu apoio.
Na realidade, o xógum detinha todos os poderes e toda a autoridade. A sua ditadura era sólida e incontestada. O imperador, encerrado em Quioto, revestido do seu mandato celeste, descendente do deus Sol, exercia unicamente a autoridade religiosa nominal que lhe conferia a sua dignidade. Se reinava deste modo, sem governar, não era menos uma personagem sagrada aos olhos do povo, que via nele um guardião das tradições, o ser semidivino que detinha nas suas mãos o destino do país. Sem a sua investidura, extorquida outrora pela força, o xógum teria sido um usurpador…
Convinha, portanto, a Asano desempenhar na perfeição o seu papel honorífico durante as recepções dos dias 12 e 13 de Março. Era um assunto de Estado e sobretudo uma questão de honra.
Kira Yoshihisa, velho cortesão venal, exigia sempre dos que o solicitavam sumptuosos presentes. Era costume da época obsequiar os funcionários a quem se pedia um favor. Os presentes variavam consoante a fortuna de quem pedia os favores.
Mas Asano Naganori não pensava da mesma maneira. Educado nos princípios confucianos de rectidão e dignidade, condenava uma prática que corrompia os servidores do Estado. Por isso, embora o aconselhassem a espalhar ouro em profusão sobre os joelhos de Kira, limitou-se a oferecer os presentes que o uso oficial consagrara, não querendo de modo algum sair da sua linha de conduta.
Asano ignorava os costumes de Edo e a mentalidade corrompida dos grandes da época. Sustentava assim que fazia parte dos deveres de Kira, na sua qualidade de chefe do protocolo, ensinar-lhe as regras da etiqueta e que seria desonroso dar-lhe presentes fora de proporção com a sua tarefa.
Kira, velho finório, sabia que Asano era rico. Soubera que a província deste lhe rendia, anualmente, 53500 koku (alqueires) de arroz e que possuía também o segredo de uma próspera indústria de tratamento do sal.
— Como – vociferou, encolerizado, ao receber os poucos e simbólicos presentes do daimio de Akô –, é isto tudo o que ele me dá?! Já que é assim, não o ajudarei com qualquer conselho, mesmo que isso lhe custe a perda da honra!
O chefe do protocolo possuía um património que lhe proporcionava apenas uma renda anual de 4200 alqueires de arroz, mas levava uma vida de grande senhor na corte xogunal, o que o obrigava a exigir retribuição por todos os serviços prestados, por mais insignificantes que estes fossem.
Um tal mal-entendido iria provocar um drama sangrento.
No dia 12 de Março, de manhã, os enviados imperiais foram recebidos em audiência privada pelo xógum e, no dia seguinte, realizou-se um banquete em sua honra, seguido de espectáculos de Nó e de Kyogen.
Enquanto isso, não tendo conseguido falar com o conselheiro Kira, livrara-se de apuros como pudera, sem fazer, no entanto, muito má figura, pois não tivera que comparecer pessoalmente. No dia seguinte, porém, o xógum dava a sua grande recepção aos enviados imperiais, recepção que era ao mesmo tempo a festa de despedida, e Asano teve de tomar o seu lugar entre os primeiros. Ora, o daimio não estava muito seguro nem do que devia fazer, nem do lugar que devia ocupar.
Vagueava pelos corredores, roído pela angústia, quando de repente viu Kira, que saltitava à sua frente, com as mãos dentro das mangas, como um mandarim chinês, um enigmático sorriso nos lábios. Asano dirigiu-se-lhe em tom irritado:
— O que é que deverei fazer daqui a pouco, diga-me depressa!
— Devia ter-se preocupado com isso antes – retorquiu calmamente o velhote –, agora não tenho tempo.
E voltou-lhe as costas, deixando Asano confundido e furioso. Talvez as coisas tivessem ficado por aí, se Kira não tivesse murmurado enquanto se afastava:
— Um bom remédio é sempre amargo!
Era um insulto.
Asano, louco de raiva, puxa então pelo sabre e corta a túnica de seda do cortesão com um golpe tão subtil que o outro fica nu, repentinamente, sem que a pele sofresse a menor beliscadura. O mestre-de-cerimónias berra como um cão chicoteado. Asano ri silenciosamente e diz, em tom de escárnio:
— Lembrar-te-ás disto!
Mas Kira vocifera, envolto nos restos da sua túnica de seda:
— É um louco, um labrego, um selvagem! Acudam-me!
Desta vez, a lâmina corta no sentido horizontal. Sempre com a máxima precisão, Asano, que sabe como fazer voar uma cabeça, visou apenas a boca aberta de onde saem as injúrias que o ferem e alarga-a até às extremidades das maxilas num sorriso sangrento. Kira engole e cospe borbotões de sangue, que o sufocam. Acorrem entretanto alguns espectadores que conseguem dominar Asano, com medo que este mate o velho. O daimio tranquiliza-os, porém, com um provérbio:
— Se odeias o teu inimigo, deixa-o viver!
Kira é levado, coberto de sangue, para fora do palácio xogunal.
Quando o xógum Tsunayoshi, que tomava o seu banho, sabe do caso, fica vermelho de cólera. Em primeiro lugar nomeia outro funcionário para substituir Asano, depois dá ordens para que a cerimónia se desenrole noutra parte do palácio, visto aquela ter ficado conspurcada pelo sangue de Kira.
Na sua raiva, o xógum queria castigar imediatamente Asano e foi com grande custo que os conselheiros o conseguiram convencer a adiar a solução deste caso infeliz para depois da partida dos emissários imperiais.
Durante a tarde, Asano, posto sob residência vigiada em casa de um nobre de nome Tamura, recebeu a visita de dois juízes, que lhe anunciaram a decisão de o xógum o ter condenado a suicidar-se por abertura do ventre.
Asano Naganori escreveu então um poema de adeus, em que falava dos seus 36 anos dispersos, como pétalas de flores não totalmente abertas; depois, com mão firme, abriu o ventre da esquerda para a direita como um verdadeiro samurai, enquanto um assistente lhe cortava a cabeça com um único golpe de sabre.
O xógum confiscou as duas casas que Asano possuía em Edo, assim como a sua propriedade de Akô.
Quando um mensageiro, coberto de poeira, transpôs a ponte levadiça do castelo feudal, os trezentos guerreiros do senhor caído em desgraça estavam reunidos e já conheciam a má nova. A notícia da morte do seu senhor espalhara-se rapidamente num perímetro de 600 km.
O enviado do xógum, um homem de boas famílias, não pestanejou, apesar de esperar a todo o momento ser cortado em dois por aqueles que de um momento para o outro se tornariam ronins, aventureiros armados, soldados perdidos sem protecção e sem recursos. Desenrolou o manuscrito e leu-o de uma só vez, de pé sobre os estribos, como um arauto. Então, para sua estupefacção, os samurais abandonaram lentamente o recinto e afastaram -se.
Durante a noite anterior, à luz dançante de uma grande fogueira ateada ao pé do torreão, os guerreiros tinham discutido o problema. Dois partidos opunham-se: aqueles que aceitavam o inevitável e se inclinavam perante a vontade do xógum – o próprio irmão de Asano não aconselhava a submissão? – e os outros, cujo porta-voz era Oishi Kuranosuke.
— O quê – salmodiava com voz sonora –, morto Asano, não aceitaria o xógum que o próprio irmão aqui presente lhe sucedesse no comando do castelo? Terão os Naganori caído para sempre em desgraça? E nós, seus fiéis guerreiros, seus homens de confiança, iremos por esses caminhos, esquecendo o mais sagrado dos deveres?
Oishi fala durante muito tempo. As chamas dançam-lhe sobre a face, tragicamente branca. Ele soube encontrar a ênfase dos antigos samurais e faz vibrar o espinho dos imperturbáveis companheiros. À medida que escutam as suas palavras inspiradas, o sangue corre-lhes mais depressa e mais quente nas veias e crispam os punhos sobre o cabo dos sabres.
No final do seu exórdio, um galo cantou, anunciando a madrugada. Sem procederem a votação, sem se consultarem, cinquenta guerreiros desembainharam o sabre e ficaram durante um longo momento imóveis, diante do fogo, segurando no punho um relâmpago vermelho.
Foi no dia 18 de Abril que as tropas xogunais vieram tomar posse do castelo de Akô. Os samurais tinham-se dispersado sem oferecer a menor resistência. O novo senhor da província de Iga, de nome de Nagai, cavalgava na retaguarda dos seus homens, um falcão pousado na luva. Os camponeses, indiferentes, miravam-no à passagem. Não lhes interessavam qual o nobre que reinasse no castelo; teriam de trabalhar à mesma e de pagar os mesmos impostos…
Kira Yoshihisa consulta mais uma vez o espelho e geme. Sob a pintura, a atroz ferida dá-lhe ainda o ar de um kami maléfico.
Afasta a imagem cruel e esconde-se de novo por detrás do leque aberto. Um dos seus samurais, acocorado e desviando pudicamente o olhar, aguarda as suas perguntas.
— Dizias tu que são apenas quarenta e sete…
— Ainda ontem eram quarenta e oito, senhor, mas assisti a uma discussão numa taberna onde o seu chefe, Oishi, se embriagou. Um tal Murakami Kiken, antigo samurai de Asano, também ficou igualmente ébrio. Plantou-se em frente de Oishi, que bebia na companhia de umas gueixas inteiramente despidas: «Cobarde – disse-lhe –, esqueceste o nosso juramento!» Primeiro pensei que Oishi ia puxar pelo sabre, pois as mãos tremiam-lhe de raiva contida. Mas pôs-se a rir: estava cheio de saqué. «Junta-te a nós para rirmos um bocado, bom companheiro», disse para o que o insultara… É uma coisa insuportável ignorar uma injúria daquelas. Fiquei enjoado… Consegui tirar-lhe o sabre para fora da bainha: a lâmina estava toda ferrugenta.
— E se fosse uma armadilha para desviar a nossa atenção?
— Nesse caso Oishi seria um herói – responde irreflectidamente o samurai de Kira.
— Mantém-te alerta – corta secamente o seu amo. — Vai-te e mantém-te alerta.
Passaram meses.
Uma noite de Dezembro de 1702, um dos ronins, Hara, deslocou-se a casa de sua mãe, onde também moravam a jovem esposa e o filho. As duas mulheres alegraram-se com a inesperada visita.
— Hara – diz-lhe a mãe – estou feliz por voltar a ver-te. Não te demores em cumprimentos, limpa os pés e entra sem cerimónias.
Descalça as sandálias de palhas, põe de lado o grande chapéu de viagem e depois entra em casa, seguido pela mulher, que traz a criança ao colo.
A velha mãe não pode calar o seu coração:
— A tua presença enche-me de alegria. Durante a tua ausência, a tua admirável esposa foi como uma filha para mim; vê como cresceu o teu querido Fusabô! Já anda e já diz algumas palavras…
Nisto chega o irmão mais novo do cavaleiro Hara e toda a família se reúne numa pequena festa, para celebrar o feliz regresso do chefe.
— Venerável mãe – diz este último –, penso que encontrei um lugar junto de um príncipe de Kantô que deseja que eu entre ao seu serviço, o que restabelecerá a nossa fortuna. Eis a razão por que me dirijo para Edo. Vim comunicar-vos esta boa nova e despedir-me.
A venerável mulher olha então fixamente o filho mais velho.
— Meu filho – diz-lhe –, estou feliz por saber esta notícia. Mas tenho o orgulho de uma mãe de samurai e gostaria de conhecer a verdadeira razão desta tua viagem…
Hara inclina a cabeça até tocar a esteira, para ocultar a vermelhidão do rosto.
No dia seguinte, bem cedo, o samurai parte apressadamente para não se emocionar com as despedidas. Por volta do meio-dia, faz uma paragem junto de uma árvore e abre o bornal, onde descobre alguns bolos de arroz que a mãe confeccionara. Corta um bocado, que ergue respeitosamente à altura da fronte antes de começar a refeição. Quando já só resta um bolo no fundo do bornal, levanta os olhos e depara com alguns pombos pousados num dos ramos da árvore. Espalha então as migalhas do almoço para que eles as venham comer e observa. As aves cantam durante um momento para avisarem os filhos, a quem deixam todas as migalhas, sem comerem uma só…
«Mas afinal, os seres humanos terão lições a receber dos passarinhos em matéria de amor familiar? Se vou a Edo, é para morrer, quer seja em combate, quer abrindo o ventre: tornei-me portanto culpado de uma grande mentira aos olhos de minha mãe. Quando tudo se consumar, o que pensará ela de mim? Que a minha afeição era bem pequena, uma vez que a enganei…»
Hara não podia prosseguir viagem com um peso destes na consciência. Dá imediatamente meia volta e toma o caminho de casa, onde chega ao pôr-do-sol. Chegado à presença da idosa senhora, cai de joelhos a seus pés.
— Não te tinhas enganado, dirijo-me a Edo para vingar o meu respeitável senhor. Ser-me-á portanto impossível tornar a ver-te. Meu pai morreu; sei que devia ficar junto de ti para te consolar. Mas como poderei cumprir ao mesmo tempo os meus deveres de filho e de vassalo fiel?
— Não me enganei por um só momento – responde com doçura a dama. — Meu filho, cumpre o vosso dever para com o teu senhor; deverá ser essa a primeira preocupação de um samurai. O teu irmão cuidará de mim. Bebamos a taça da despedida.
O cavaleiro, no dia seguinte, levanta-se ao romper do dia, e vai esperar à porta do quarto da mãe, sabendo que esta se levanta sempre antes de todo o resto da casa. As horas passam. O Sol já vai alto no céu. Por volta das 10 h da manhã, à hora do dragão, o cavaleiro Hara, roído pela inquietação entra no quarto e depara com a mãe, morta.
Perto do travesseiro de madeira onde a velha senhora reclinava a cabeça, sem que o penteado tivesse sido desfeito, via-se uma carta manchada de sangue:
«Meu querido filho, a tua bondade e a tua afeição são grandes; feliz é a mãe de um tal filho. Mas é preciso que partas para o combate sem que qualquer inquietação te preocupe, senão o inimigo teria possibilidade de ver o interior do teu capacete. Precedo-te, pois, na morte, meu filho, na terra dos kami. Vê doravante no cavaleiro Kira, não só o inimigo do teu honrado senhor, mas também o carrasco da tua mãe, e dá aos teus camaradas um exemplo de heroísmo. Morro sorrindo para a faca que corta o fio da minha modesta vida. Um derradeiro adeus ao teu irmão, tua mulher, ao pequeno Fusabô e a ti, meu querido filho. A mãe.»
— Vejam todos – diz Hara – o que ela fez por mim.
E o olhar do samurai cavalgando na direcção de Edo fazia baixar os olhos aos mais corajosos – lia-se nele a morte.
Por uma outra estrada seguia Kampei e o seu semblante era assustador. Ao regressar de casa dos sogros, tinha encontrado Ichimonjiya, o patrão de uma «casa verde», a quem sua noiva se vendera para lhe proporcionar os meios da sua vingança.
Cada um dos conjurados, depois de meses de espera, tivera de «engolir» ultrajes e declinar desafios, para guardar o segredo. Às escondidas, porém, tinham reunido fundos, escondido armas e armaduras, assegurando cumplicidades e ultimado o plano de ataque.
O encontro estava marcado para o dia 14 de Dezembro, ao cair da tarde, perto do yashiki de Honjo, o solar onde residia Kira, em Edo, um bairro deserto, perto de uma grande ponte de madeira.
Nevava. Duas barcas, cujos remadores tomavam todo o cuidado para não baterem com os remos na água, vieram acostar à margem. As proas encalharam rangendo sobre as ervas geladas. Seis dos ronins, equipados como para a guerra, saltaram de cada um dos esquifes. Respiravam libertando curtas baforadas de vapor sob a lua branca, como dragões vigilantes.
Outras sombras fantasmagóricas perfilavam-se sobre a ponte, a intervalos regulares, imobilizando-se de três em três passos, para despistar os possíveis vigias dos samurais de Kira. Só um olhar particularmente vigilante poderia dar-se conta desta progressão intermitente, que durava o tempo de um abrir e fechar de olhos. Só um gato poderia ter visto, durante as suspensões da marcha, que a ponta de uma lança ou a curvatura de um arco ultrapassava as vigotas da amurada da ponte.
O yashiki era formado por um conjunto de edifícios baixos, ao fundo de uma ruela, ladeada por outras residências de notáveis. Estas casas de madeira não tinham outras saídas para o exterior além das portas, cuidadosamente barricadas do interior a esta hora tardia. Mas por cima dos telhados cobertos de neve dançavam por instantes as fagulhas vermelhas das lareiras, indicando que ainda havia gente acordada.
Oishi Kuranosuke, descendo de uma das barcas, levantou um braço. Sempre em silêncio, os seus companheiros pegaram em duas escadas e em compridas achas de lenha. Um a um, os outros ronins galgaram de um salto o espaço a descoberto que separava a ponte dos primeiros edifícios.
As escadas foram adossadas à parede do solar, sem bater em nada. A tropa dos ronins enchia agora a ruela, uma massa compacta, confundindo-se as expirações no ar frio e imóvel.
— Banzai!
Os rugidos, reprimidos durante dois anos, reboaram de súbito aos ouvidos de Kira Yoshihisa, que passava pelas brasas, agachado na sua túnica de seda, junto à lareira.
Os enormes golpes de aríete que sacodem a porta da casa marcam os batimentos desordenados do seu coração. Quase que desmaia, pois sabe que são eles. Os pesadelos, que atribuía às digestões difíceis, tinham outra razão de ser. Kira treme. O leque cai-lhe das mãos, descobrindo o horrível ricto; a face está mais branca que a pintura que usa, durante o dia, na corte.
A porta cede. O clamor dos assaltantes redobra de intensidade. Já os seus capacetes com cornos se avistam sobre os tecidos e cintilações de aço frio cortam a palidez da noite.
Os vizinhos, que ouvem o rumor do assalto, compreendem o que se está a passar – há muito tempo já que o esperavam. A noite é atravessada por ordens vindas de todo o lado. É o alarme: homens armados postam-se, de sabre em riste, em frente de cada porta. Mas defendem unicamente a neutralidade das outras casas e não intervirão, pois trata-se de uma questão de honra.
Doze samurais de Kira estavam de sentinela em Honjo. Agarram nos sabres e avançam rapidamente pelos pátios. É demasiado tarde, porém; os assaltantes surpreendem-nos semi-nus, surgindo da porta arrombada ou saltando dos tectos. Os defensores sucumbem, crivados de setas e lanças, antes mesmo de terem visto um único rosto inimigo.
Num abrir e fechar de olhos, doze grandes manchas de sangue, que alastram pela neve, assinalam os sítios onde tombaram. Um deles, o chefe, sangrando de vinte feridas diferentes, arrasta-se sobre os antebraços até aos pés de Oishi, levanta a cabeça, reconhece-o e balbucia algumas palavras que o sangue sufoca.
— Guerreiros fiéis…
Era uma homenagem. Mas uma lança prega-o ao solo e o homem imobiliza-se num último espasmo, que levanta uma nuvem de neve.
— Kira!
Oishi ataca, logo seguido por Hara, Kampei e todos os outros. Irrompem pelas alas do edifício, de sabre ensanguentado, semblante furioso. As finas tapeçarias são golpeadas, os vasos preciosos, estilhaçados. Onde está ele? Servos e servas fogem na penumbra: esbofeteados com a parte plana do sabre, voltam-se soltando gritos estridentes para esbarrarem com outros demónios.
— Kira!
Um letrado da corte, amigo do mestre-de-cerimónias, sai de uma alcova levantando os braços. Cortam-lhe cerce as duas mãos.
— Kira!
— Fugiu; escondeu-se por ali – murmura uma serva.
Por ali era um armário de uma das dependências, sob um monte de roupa suja que os sabres revolvem. A roupa começou a tremer; era Kira! Arrastam-no, empurram-no para o centro de um jardim coberto de neve, poupado pela batalha. Algumas tochas são acesas e presas ao chão. Os ronins põe-se em fila, com uma calma assustadora. Eis chegado o grande momento: a hora.
— Senhor Kira, manda buscar os teus sabres.
Nem uma palavra sai das maxilas que tremem. Um servo aparece e coloca sobre uma pequena esteira as armas do condenado. Mas este sacode a cabeça e continua de joelhos, tremendo de medo, de vergonha e de frio.
— Eu – diz Hara.
Um sorriso luminoso de ternura aflorou-lhe nesse momento nos lábios. O clarão das tochas, toda a reverberação da neve resplandecente se reflecte no relâmpago de uma lâmina pura que fustiga o ar, sopro logo seguido por um leve choque amortecido: a cabeça infamada de Kira suja a neve com uma auréola escarlate.
Os sabres são reembainhados com um estalido uníssono.
A cabeça de Kira foi então embrulhada num pano branco e todos os samurais de Asano se puseram a caminho. Instalaram-se nas barcas que os esperavam e desceram o rio até ao templo do Sengaku-ji, onde repousavam os restos mortais do seu amo. Ali, solenemente, depositaram a cabeça de Kira e o sabre que a cortou juntamente com um bilhete onde se liam as seguintes palavras:
«Décimo quinto ano da era Genroku, décimo segundo mês, décimo quinto dia. Viemos aqui com o propósito de prestar homenagem à vossa memória. Somos quarenta e sete samurais, desde Oishi Kuranosuke até ao simples guerreiro a pé, Terasaka Kichiemon, dispostos a oferecer com alegria a nossa vida por vós. É com o maior respeito que anunciamos isto ao espírito do nosso defunto amo. No décimo quarto dia do décimo quinto mês do ano passado o nosso amo atacou Kira Yoshihisa por razões que ignoramos. Foi depois obrigado a suicidar-se, mas Kira continuava vivo. Embora depois do decreto do governo receássemos que esta conspiração desagradasse ao nosso suserano, nós, que comemos da sua comida, podemos, sem corar, repetir estes versos: «Não viverás sob o mesmo céu, nem pisarás a mesma terra que o inimigo do teu pai ou do teu senhor.» Do mesmo modo não ousaríamos sair do Inferno e apresentarmo-nos no paraíso sem termos terminado a obra de vingança que tínheis começado. Cada dia que passava parecia-nos tão comprido como três Outonos. Em boa verdade, andámos dois dias na neve, parando uma única vez para comermos. Mesmo os velhos e os decrépitos, os doentes e os fracos vieram dar alegremente a vida. Eis a cabeça de Kira e a lâmina que a cortou. Que o vosso ódio seja para sempre aplacado. Esta é a respeitosa declaração de quarenta e sete samurais…»
Depois, declaram-se prisioneiros. O povo de Edo aclamou-os como se fossem heróis e o próprio xógum admirou a sua constância e coragem. Mas a lei era a lei. Primeiramente, Tsunayoshi decretou que todos aqueles que tentassem vingar os quarenta e sete ronins seriam considerados como criminosos e punidos como tal. Pretendia desse modo desencorajar, antecipadamente, as represálias dos guerreiros de Uesugi, parentes de Kira.
O conselho xogunal reuniu-se em seguida para decidir o procedimento a adoptar. As deliberações duraram meses. As discussões chegaram ao fim no dia 1 de Fevereiro de 1703: os ronins foram convidados a cometer o suicídio ritual, o que lhes evitaria a desonra.
Foi no dia 4 de Fevereiro que se desenrolou a atroz cerimónia. Realizou-se ao ar livre e começou logo ao nascer do dia. Os condenados, que tinham sido postos sob a guarda de daimios de alta estirpe, observaram todas as regras da cortesia tradicional nesses casos. Apresentaram-se envergando túnicas de linho branco no recinto também revestido de branco – cor do luto – e que fora convenientemente orientado em relação ao Sol, segundo o muito antigo código do seppuku. Nos quatro cantos vieram instalar-se testemunhas ou delegados, na sua maioria parentes dos condenados.
Sobre as esteiras que cobriam o solo tinham sido estendidos lençóis de algodão. O cerimonial determinava que assim fosse para que os condenados pudessem andar sem sandálias; não seria conveniente perderem uma a meio do caminho. Até tinham fixado o ponto do horizonte para onde eles se deveriam voltar, e também com a maior precisão, a fórmula que deveriam pronunciar. Ei-la:
«Senhores, não tenho nada para dizer; no entanto, como foram suficientemente bondosos para pensarem em mim, peço-vos que apresentem os meus respeitos ao vosso suserano, assim como aos fidalgos do vosso clã que tão bem me trataram. Ficar-vos-ia muito grato se tivessem a bondade de transmitir esta mensagem a…»
Confiavam então o último poema, destinado a um parente próximo ou a um amigo e acocoravam-se, o rosto voltado para o norte. Os assistentes, imóveis e silenciosos, dispunham-se em semicírculo, a alguma distância deles.
O kaishaku, auxiliar qualificado, dizia então:
— Como vou ter a honra de vos cortar a cabeça, gostaria de utilizar o vosso sabre para o efeito. Será para vós, não tenho dúvida, uma consolação ser degolado por uma arma que vos é tão familiar…
Com um gesto, o samurai designava as suas armas, colocadas sobre um pequeno escabelo, perto da selha que, daí a instantes, receberia a sua cabeça.
Um grande perfumador liberta um forte odor de incenso. O supliciado não tem mais que estender a mão para agarrar no sabre curto, colocado à sua frente, no seu estojo de madeira. Por detrás dele, o kaishaku, com um semblante nada triste, verifica se tudo está conforme as regras.
Não comporta qualquer heroísmo saber cortar bem uma cabeça, mas seria desonroso fazê-lo desajeitadamente. No entanto, um homem não deve invocar a sua falta de habilidade para se esquivar a esta obrigação, pois é indigno de um samurai não saber decapitar um homem: se fosse preciso recorrer ao braço de um estranho num caso destes, seria praticamente confessar ignorância das artes da guerra – uma vergonhosa humilhação. Evitava-se, apesar de tudo, os jovens ainda estouvados ou indivíduos susceptíveis de perder o sangue-frio.
O seppuku dos ronins foi exemplar. As quarenta e seis cabeças caíram como deviam.
Faltava um homem: aquele que Oishi encarregara, depois do assalto, de informar a família de Asano que o suserano fora vingado; comparecera também perante a justiça, logo que regressou, mas foi perdoado, pois o processo fora encerrado. Viveu até aos 83 anos; mas como fazia parte dos quarenta e sete ronins, foi enterrado ao lado dos seus companheiros.
São, aliás, quarenta e oito os túmulos venerados perto do templo de Sengaku-ji, pois Murakami Kikeq veio, pouco depois das exéquias dos heróis, matar-se, sozinho, diante dos restos mortais de Oishi, a quem um dia chamara cobarde.
Também ele; cumpriria os gestos rituais do seppuku:
Tira lentamente o sabre da bainha; o aço azul cintila com um brilho pesado. Envolve depois a lâmina, com uma fita branca de modo a deixar livres, na ponta, cinco polegadas de aço…
 RSS Feed
RSS Feed